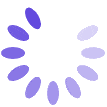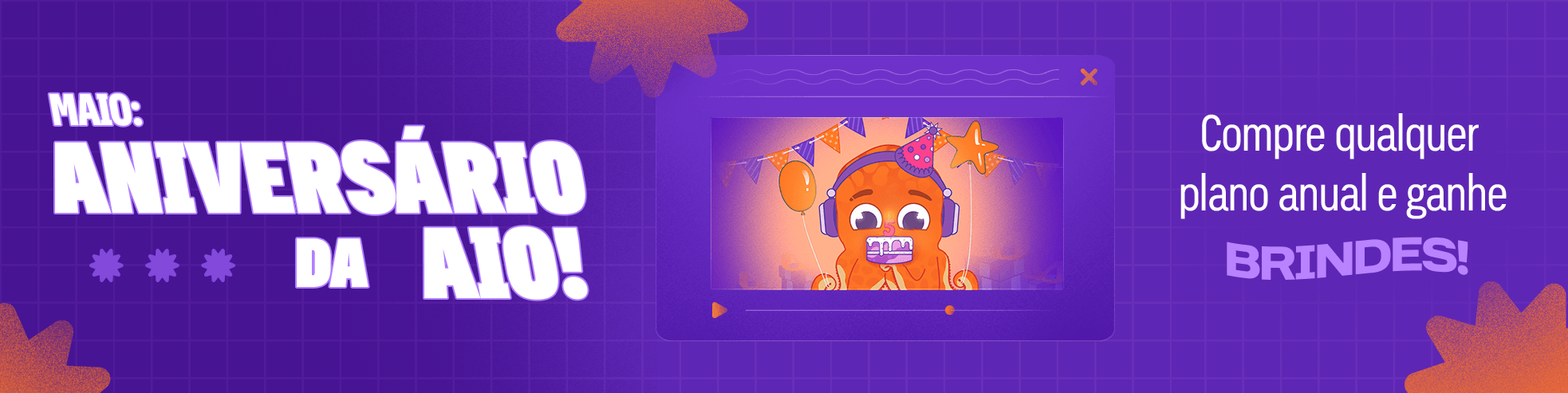Prefeitura de Carmo 2022
Atenção! O texto 1 abaixo serve de base para responder às questões 26 a 35:
s
TEXTO 1
s
GRAMÁTICA E SEU CONCEITO
s
A gramática descritiva ou sincrônica é o estudo do mecanismo pelo qual uma dada língua funciona, num dado momento (do gr. syn- “reunião”, chrónos “tempo”), como meio de comunicação entre os seus falantes, e na análise da estrutura, ou configuração formal, que nesse momento a caracteriza.
Quando se emprega a expressão gramática descritiva, ou sincrônica, sem outro qualificativo a mais, se entende tal estudo e análise como referente ao momento atual, ou presente, em que é feita a gramática.
Já tinha em princípio esse objetivo a gramática tradicional, elaborada a partir da Antiguidade Clássica para a língua grega e em seguida a latina. Em português, desde Fernão de Oliveira e João de Barros no século XVI, vêm se multiplicando as gramáticas, pautadas pelo modelo greco-latino, intituladas quer descritivas, quer expositivas. Ora, mais propriamente normativas, se limitam a apresentar uma norma de comportamento linguístico, de acordo com a sempre repetida definição “arte de falar e escrever corretamente”. Ora, mais ambiciosas e melhor orientadas, procuram ascender a um plano que bem se pode chamar científico em seus propósitos, pois procuram explicar a organização e o funcionamento das formas linguísticas com objetividade e espírito de análise.
Tiveram este último propósito as chamadas “gramáticas filosóficas”, como em português a de Jerônimo Soares Barbosa no século XVIII. Embora tenha havido recentemente, com a escola norte-americana de Noam Chomsky, certo empenho em valorizar essas “gramáticas filosóficas” (Chomsky, 1966), deve se reconhecer que a crítica que a elas se fez, desde os princípios do século XIX até meados do séc. XX, era em essência procedente. O fundamento para a ciência da gramática, por elas entendida, era a disciplina filosófica da lógica, como a delineara Aristóteles na Grécia Antiga e depois Descartes no séc. XVII. A gramática foi entendida como ancilar do estudo filosófico que trata das leis do raciocínio. A justificativa estava no pressuposto de que a língua, em sua organização e funcionamento, reflete fielmente essas leis.
Havia aí, antes de tudo um círculo vicioso. A língua servia para ilustrar a lógica, e a lógica para desenvolver a gramática. Depois, a lógica aristotélica e ainda a cartesiana, mesmo quando remodelada já nos meados do séc. XIX pelo filósofo inglês John Stuart Mill, está longe de satisfazer aos requisitos de uma análise rigorosa e precisa das leis do raciocínio. Tanto que a filosofia do séc. XX procurou recriar a disciplina em linhas matemáticas, sob o título de “lógica simbólica”, num afã em que se destacou especialmente o filósofo inglês Bertrand Russel. Finalmente, a base lógica que se pode depreender na organização e nos processos comunicativos das línguas é uma compreensão intuitiva das coisas, permeada por toda a vivência humana. Em vez de refletirem um exame objetivo e despersonalizado das coisas, as línguas refletem a maneira de as ver por parte de homens que se acham nelas interessados e até integrados.
c
(Câmara Jr., Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Editora Vozes, 1997. 26ª edição.)
No último parágrafo do texto 1, o autor faz uma conclusão de um raciocínio crítico sobre as gramáticas filosóficas. Nessa conclusão, surge o trecho “Em vez de refletirem um exame objetivo e despersonalizado das coisas, as línguas refletem a maneira de as ver por parte de homens que se acham nelas interessados e até integrados”. A leitura desse trecho permite inferir que há uma espécie de pressuposto adotado pelo autor:
O de que as gramáticas filosóficas refletem a maneira de os homens verem a língua.,
O de que as gramáticas filosóficas refletem um exame objetivo e despersonalizado das coisas.
O de que as gramáticas filosóficas refletem um exame subjetivo e personalizado das coisas.
O de que as gramáticas filosóficas refletem uma maneira não lógica de ver as coisas.
Tudo com nota TRI em tempo real